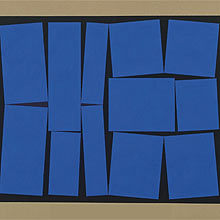Por Francisco Bosco e Eduardo Socha
|
foto de Emiliano Capozoli Biancarelli
|
| |
CULT – Em seu blog, você se mostra encantado pela influência de São Paulo e procura até mesmo esterilizar todo juízo de valor relacionado à força dessa influência, quando coloca lado a lado o Museu da Língua Portuguesa, a Sala São Paulo, a Daslu e o res-taurante Fasano. Por que São Paulo não aparece em suas novas canções?
Caetano – Porque moro no Rio e passei todo o ano de 2008 no Rio, construindo o repertório do novo disco. É um disco carioca de nascença e de formação. Fala de lugares e pessoas do Rio. Sempre tenho saudades de São Paulo. E me orgulho muito de ver a força da cidade se afirmando cada vez mais. Você está certo em notar que é significativo que o Fasano e a Daslu apareçam ao lado do Museu da Língua Portuguesa e da OSESP. Várias pessoas no blog protestaram, como se eu tivesse dito uma blasfêmia. Mas o momento de percepção da força não é o momento do julgamento moral ou político. A visão que inclui o Fasano é da mesma natureza da visão que surge em “Sampa”. Acho tolice pensar que maculei meu texto sobre São Paulo por incluir conseguimentos empresariais marcantes, mesmo que envolvam denunciadas ilegalidades. Desejo é passar mais tempo em São Paulo e, mesmo sem isso, escrever músicas em que coisas e climas da cidade apareçam.
CULT – Há muito afeto dedicado ao Rio nas letras e na ambientação sonora deste último disco. Por outro lado, comparado àquilo que você fala de SP, tem-se a impressão de que o Rio está passando por um grande deficit de autoestima. É só impressão?
Caetano – Não é só impressão. Embora eu preferisse não usar aqui a expressão “defict de autoestima”. O Rio passa por longa ressaca da perda do status de capital e enfrenta gradativa relativização do status de centro cultural do país. Baianos entendem muito disso. Mas a autoestima arraigada na formação dos cariocas não se desfaz facilmente. Ela se conflitua, perde o relaxamento, mas estamos longe de poder falar em deficit.
CULT – Seu trabalho anterior, Cê, é um disco de rock. Antes dele, A foreign sound trazia canções estadunidenses (apesar de pouco eufônico, considero esse o termo conceitualmente correto), por meio das quais você pensava as relações entre a música do Brasil e a dos EUA. Agora você apresenta um disco, zii e zie, com a noção de “transamba”. Pois bem, por que dedicar um pensamento cancional ao samba, nesse momento? Há alguma razão cultural, histórica nesse interesse? E como você entende essa noção de “transamba”?
Caetano – Eu só fiquei com vontade de pegar umas maneiras bem simplificadas de tocar samba no violão (a partir de umas estilizações que Gil fazia – e que eu usei em “Madrugada e amor” e “Eleanor Rigby”) e levá-las para a banda de rock que armei com Pedro Sá pro Cê. Fui compondo já pensando nisso. Como era uma espécie de reprocessamento de elementos rítmicos do samba, me ocorreu a palavra transamba para apelidar o lance. O Marcos Maron já tinha usado essa palavra num disco dos anos 70. Mesmo assim, mantive a palavra na capa do disco (nunca foi pensada para ser o título). Agora, a motivação histórica eu não sei. O samba é tema perene para quem lida com música no Brasil. Mas não posso deixar de notar que esse disco sai num período em que muita gente grava samba. Há também uma fagulha rebelde: samba e rock são as áreas mais protegida criticamente e as que mais autorrespeito exibem – mexer nesses santuários me excita.
Achei gozado você dizer “estadunidense”, pois no blog discuti com uma argentina que implicava com a palavra “americano” para caracterizar os que nascem nos Estados Unidos. Mas é que não gosto de fingir que não se sabe do que se está falando, quando se sabe. Se digo “filme americano”, “música americana”, “ele é americano”, todos sabem do que estou falando. Para ir fundo na questão do nome do país mais rico do mundo, temos de começar por constatar que ele não possui um. Tanto eu em Verdade Tropical quanto Godard em Eloge de l’amour dissemos isso extensivamente. “Estados Unidos” não é um nome – e América é o nome do continente em que aquele país (aliás o nosso também) se estabeleceu. Os hispanoamericanos escrevem “estadounidense”, com o “o” de “estado” (mas sem o “s” do plural). Em português, esse ditongo “ou” pesaria no meio da palavra. Evitamos. A nossa palavra é um pouco melhor. Mas me é ainda tão incômoda que não vejo no esboço ressentido de problematização do nome do irmão do norte razão para usá-la. A Foreign Sound tem muito a ver com isso: é um disco rechea-do de inteligência sobre os meandros da força imperial. Há dicas de sobra nas notas do encarte a esse respeito. O rock de Cê vem eivado de discussão íntima e pública dessa complexa textura histórica. O transamba de zii e zie é complemento natural desse passo. Isso é parte do que eu diria, se estivesse constante e conscientemente levando em conta esses aspectos da criação a que você se refere em sua pergunta.
CULT – Ao contrário das letras de Cê, que eram concisas e curtas, as letras de zii e zie tendem à expansão. A letra brevíssima de “Base de Guantánamo” é uma frase em prosa sobre uma indignação política. Durante os shows de Obra em progresso, você abria um espaço em que comentava temas da atualidade. Finalmente, houve a criação do blog, onde você propôs discussões cujo leque abrangia da lingüística ao carnaval, do rock à filosofia. Você diria que está tendendo cada vez mais à discussão verbal, ao amor pelas idéias? É claro que sua obra cancional sempre foi reflexiva – e também sua obra em outras linguagens -, mas você diria que isso está se radicalizando (se é que é possível)?
Caetano – Eu sempre brinco com isso. Mas a piada mais radical que fiz nesse sentido foi O Cinema Falado. Adoraria fazer um filme totalmente narrativo, popular, e com poucas palavras. No caso da obraemprogresso, acho que coisas que aconteceram no palco levaram ao uso do blog como lugar para discutir qualquer assunto. Começou com o alegado racismo de Noel em “Feitiço da Vila”. De fato, aquele “feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem” parece dizer que o samba, tendo chegado à classe média de Vila Isabel, se livrou dos aspectos africanos e passou a ser “decente”. A Vila, aliás, tem “nome de princesa”, a que assinou a lei abolindo a escravidão. Tudo isso é demasiado sugestivo para que ninguém tenha tentado entrar na questão. Claro que eu não classifico Noel como um racista, mas esses aspectos do “Feitiço da Vila” (bairro que, aliás, é descrito na letra como não tendo ladrão) sempre me pareceram gritantemente negligenciados.
Quando o discurso sócio-político brasileiro se racializou, para o bem e para o mal, eu cedo meditei sobre essa canção. Não queria deixar de contar isso, levantar essa lebre. Depois veio Fidel escrevendo que eu e Yoani Sánchez (que tem um blog crítico da vida em Cuba) somos exemplos de submissão ao imperialismo ianque. Depois meu pé atrás com os sociolingüistas, que passei a conhecer um pouco melhor justamente porque revelei meus grilos com eles. (Acho que eles podem contribuir muito, mas temo que eles tenham estado demasiado eufóricos com a cientificidade da matéria que estudam e ponham a gramática sob suspeição, antes que encorpemos um projeto de letramento das massas brasileiras – e tudo isso demasiado evidentemente atrelado à política partidária e mesmo eleitoral.) Assim, tudo no blog virou discussão de botequim. Bem legal. Mas eu não creio que eu tenda a me dedicar mais à discussão de ideias do que já tenho feito. Não estou preparado para fazer isso sistematicamente.
CULT – Um dos filósofos mais debatidos no mundo, hoje, é Slavoj Zizek, a respeito do qual você disse, em seu blog: “não penso como Zizek mesmo!”. Você poderia explicar em que consiste essa divergência exclamativa?
Caetano – Talvez a exclamação se devesse ao contexto da discussão daquele momento. Zizek é pop. Ele também é um intelecto superexcitado e tem erudição em várias áreas. Ampara-se em Hegel e Lacan para louvar Matrix, filme que, para mim, é um abacaxi de caroço. Ele gosta desses esquemas que dizem que somos sempre manipulados. Quanto mais claro pensamos, mais presos estamos a ideologias que camuflam interesses. Mas eu fico com Antonio Cicero quando lembra Hanna Arendt a esse respeito. Zizek tem o charme de falar no que a esquerda em geral evita mencionar: ele prefere ter algo positivo a dizer sobre as paradas fascistas da Coréia do Norte do que fingir que não as vê. Eu li Bem vindo ao deserto do real, um livro curto, e In defense of lost causes, um grosso volume. Ele convoca Robespierre, Lênin e Mao e exalta a revolução violenta. No fim, ele elege a causa ecológica como a escolha certa da esquerda para exercer o terror.
Eu tinha lido um artigo de Nelson Ascher na Folha predizendo isso. Na altura, achei o artigo de Ascher reacionário e algo simplista. Ao ler a conclusão de In Defense of Lost Causes, achei que Ascher tinha razão. Para Zizek, toda crítica à liberdade de expressão nos países comunistas é mera tramóia liberal burguesa. Além disso, ele grila com o café descafeinado. Qual o problema? Café não é cafeína. Nesse caso, ele faz uso indevido das palavras. Bem, além desses dois livros, li artigos esparsos e vi dois documentários americanos sobre ele (lá nos States, passa no cinema e tudo: ele é uma estrela). Num, segue-se uma turnê de palestras. No outro, vê-se Zizek comentando filmes. Assisti à palestra dele na UFRJ. Ele é um cara enérgico, engraçado, sua muito e pronuncia todas as letras das palavras inglesas – com a adição de um cicio. Resulta simpático. Achei irresponsável ele dizer aquelas coisas a um bando de jovens brasileiros. Mas acho que a exclamação no meu comentário se deve a ele ter falado mal do carnaval.
Só preciso te dizer que leio sempre, mas sempre muito sem método ou mesmo critério. Por exemplo, comprei Coração das trevas no aeroporto, em dezembro, indo para Salvador. Ao chegar lá, comentei com Paulo César Sousa a qualidade da tradução de Sérgio Flaksman. Paulo então me disse que acabara de ler um romance estranhíssimo de Conrad, chamado Under western eyes – e me trouxe o exemplar. É um livro incrível, em que Conrad conta uma história que prende o leitor como Crime e Castigo e onde ele mostra que a autocracia russa, marca do Csarismo, estava presente no espírito dos revolucionários russos que se refugiavam na Suíça. E prediz o estilo autocrático que sairá de uma revolução feita por eles. O romance é de 1908, creio. Estava impressionado com isso, quando uma amiga americana me trouxe de Nova Iorque um exemplar de The Nigger of The Narcissus (ela e eu tínhamos uma discussão sobre o problema da palavra “nigger” no país dela) e Tuzé Abreu, me ouvindo falar de três livros de Conrad me trouxe Lord Jim e Linha de sombra. Passei grande parte do verão lendo Conrad, coisa que não planejei, nem sequer imaginei que fosse fazer. Paulo ainda me deu um livro chamado The Great Tradition, um estudo crítico da ficção inglesa, em que Conrad aparece ao lado de George Elliot e Henry James como os seus maiores representantes. Aí li com atenção especial a parte sobre Conrad. É assim, minhas leituras são definidas pelo acaso. Agora estou lendo The Pirate’s Dilemma, um livro otimista sobre internet, pirataria e desrespeito aos direitos autorais. Então, minhas opiniões sobre cultura livresca devem ser tomadas com um grão de sal.
CULT – Ainda em seu blog, num post a respeito da história recente e do papel cultural, político e econômico das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, você declara: “Só mais tarde tomei contato com pessoas que olhavam para o Brasil com um jeito arrogante, como se fossem de uma grande cidade do mundo e tivessem que arrastar essa África às costas. Entendi que alguns queriam salvar o Brasil, outros, livrar-se dele. Passei a chamar isso (irresponsavelmente) de USP”. Você poderia desenvolver essa passagem e nos explicar como compreende o papel da USP na história recente do Brasil?
Caetano – Acho o papel da USP impagável. (E adorei chegar à dubiedade semântica dessa palavra.) No blog eu estava falando meio poeticamente sobre São Paulo. O aceno risonho à USP surgiu rápido demais no parágrafo. Além de contribuir com a elevação do nível da “massa crítica”, a USP orientou nossa política real. Tanto FH quanto Lula são crias da USP. Sei que os dois grupos reagem contra essa simplificação. É que não é uma simplificação. É uma complexificação para além do pensamento (predominantemente paulista) que opõe PT a PSDB. Eu gosto de Marina Silva.
CULT – Você parece manter uma relação de amor e ódio com a USP, reconhecendo a importância política (incluindo aí FH e Lula) mas tratando o pensamento uspiano como aquele que queria se livrar do Brasil. Existe ainda função política ou “civilizacional” da universidade?
Caetano – Percebi cedo em São Paulo as oscilações entre querer livrar-se do Brasil, querer salvá-lo ou querer alcançá-lo em sua brasilidade. Muitas vezes a inveja, o desprezo e a condescendência se mesclam numa mesma pessoa. Não acho que a USP seja exemplo do desejo de se livrar do Brasil. Não foi o que eu escrevi no blog. Todas as nuances dessa particularidade paulista se encontram na USP (e a particularidade descrita não repre-senta o todo da relação de São Paulo com o resto do país). Mas a “brasilificação do mundo” não significa a mesma coisa para José Miguel Wisnik e para Paulo Arantes. Oswald de Andrade e Haroldo de Campos não significam a mesma coisa para Roberto Schwartz e para Leyla Perrone-Moisés. Se lêssemos a Folha de S.Paulo entre os anos 1980 e 90, sentiríamos que a USP dominava a imprensa, era seu núcleo crítico. Ainda hoje o adornianismo impera até em cadernos de rock’n’roll para adolescentes. O que é a ironia das ironias.
Assim, os neo-conservadores (com todas as grossuras que lhes são características) brilham como um grupo contrastante em ambiente dominado. Não nos enganemos: não estamos falando da USP, mas de uma certa esquerda desenvolvida na USP. Pois há conservadores na USP, inclusive convidados a preencherem as janelas de direita que os jornais descobriram que precisavam abrir. A reação é mais geral: é contra a hegemonia da esquerda. Natural que, sobretudo em São Paulo, algum jornalista se anime a falar em “esquerdopatas da USP”. Eu acho esse tom cafajeste e sem graça porque é superficial. Não apenas esse período FH-Lula não seria possível sem a esquerda uspiana: a universidade tem tido e ainda terá grande papel a desempenhar no nosso amadurecimento político e civilizacional.
A razão de minha birra com o que chamo de USP está descrita pelo próprio Fernando Henrique na conversa com Mário Soares: ele conta que, como sociólogo, ele tinha se oposto a Gilberto Freyre, mas que o exercício da presidência o tinha levado a rever seu julgamento. Como eu gosto de Gilberto Freyre sobretudo por suas conseqüências políticas (as conseqüências históricas do mito luso-tropicalista se tornaram mais palpáveis a FH quando ele teve de enfrentar o Brasil real), considero a crítica que o ex-presidente sustentava antes aquém da intuição mais lúcida do significado da experiência brasileira. E toda teimosia em manter os termos dessa crítica hoje me parece caricatural. FH deu uma desmunhecada quando se abriu vaidosa e descuidadamente para João Moreira Salles na revista Piauí. Lula em geral está além, e não aquém, da intuição luso-tropicalista. É um presidente que soa sempre eufórico e deslumbrado. Mas há algo real no móvel do deslumbamento de Lula. A USP é top de linha na vida acadêmica brasileira. Ainda tem muito a dar. Mas a vida acadêmica brasileira terá de mudar muito – e espero que isso venha como conseqüência de alguma inspirada revolução no ensino básico. Mas entenda que eu próprio não sou luso-tropicalista: a escolha da anedota de FH versus Freyre foi apenas paradigmática.
CULT – Paulo Arantes fala da tendência sociológica que vê uma “brasilianização do mundo”, ou seja, a exportação do nosso modelo social de favelização, precarização do trabalho, distanciamento maior entre centro e periferia e também do nosso jeitinho para negociar com a norma. Para essa tendência, o Brasil virou o país do futuro, mas de um futuro nada romântico. Em “Falso Leblon”, por outro lado, você pergunta melancolicamente “o que faremos do Rio quando, enriquecendo, passarmos a dar as cartas, as coordenadas de um mundo melhor”. Que mundo seria esse, inspirado pelo Brasil?
C aetano – Seguramente não seria o mundo descrito pelo americano que Paulo Arantes cita. O Brasil não corresponde, quando o olho com lucidez, à visão que Paulo Arantes tem dele. No início do século 20, você lê a comparação feita por Lima Barreto entre o Rio e Buenos Aires. Antes disso, você lê em toda parte que as universidades e a imprensa chegaram aos países hispanoamericanos séculos antes de chegarem ao Brasil. No entanto hoje eu tenho às vezes de ser condescendente com argentinos que sentem despeito da arrancada brasileira. E Machado e Euclides chegaram aonde chegaram. E Guimarães Rosa. E João Gilberto, Jobim, Niemeyer, Pelé, Chico Buarque. Partimos de um país selvagem, inculto, de cidades sujas, cheias de negros ex-escravos e mestiços desrespeitados. As mudanças que tenho visto desde a minha adolescência são muito rápidas e muito grandes para que os mais letrados entre nós só repitam que não andamos. É loucura.
Mas sem crítica e sem lamentos tampouco se anda. Então está bem. Mas alguém precisa alertar para os conseguimentos, senão não há responsabilidade. O que se ouve em “Falso Leblon” é algo que pode se dar ao luxo de ser dito em tom melancólico: não precisa de euforia. Um solitário entristecido pela visão de uma bela jovem degradada pode meditar sobre o possível enriquecimento e fortalecimento do país onde nasceu e vive. Jorge Mautner diz que “ou o mundo se brasilifica ou vira nazista”. Eu sou diferente de Mautner, mas também o amo muito por dizer isso. Nosso “jeitinho para negociar com a norma” talvez contenha mais elementos do que sonha a sociologia de Arantes. Nenhum país real produz um futuro real que seja o que hoje podemos chamar de “romântico”. Se o futuro que o Brasil esboça é desde já criticável, é sinal de que já estamos longe de poder simplesmente rir do livro de Stefan Zweig. E que o Brasil já é visto como algo que desenha mesmo o futuro do mundo.
Eu não estou tão convencido, apesar de Arantes e seus colegas aglófonos catastróficos. Há europeus continentais (é o caso de um italiano que escreveu “Hedonismo e medo”) que veem o Brasil como modelo para o futuro do mundo – para o bem e para o mal. Mais para o bem, já que o “jeitinho para negociar com a norma” é visto por eles como um modo interessante (e misteriosamente promissor) de metabolizar os males sociais.
CULT – Você foi uma das primeiras pessoas no Brasil a chamar a atenção para o pensamento de Roberto Mangabeira Unger. No livro O que a esquerda deveria propor?, o atual Ministro defende um pensamento alternativo de esquerda, para além da nostalgia e da social-democracia. O que mais te atrai nessa proposta?
Caetano – Quem me deu a dica foi José Almino. Ele me mandou ler os artigos de Mangabeira na Folha. Desde os anos 80 que o que ele escreve me interessa. É uma contribuição sofisticada e original. Para mim, o importante do Brasil é ser essa oportunidade de originalidade. Lendo Mangabeira, senti que gente como ele pode elaborar o que eu não poderia senão sonhar. Sempre me interessei por alguma coisa que supere o estágio a que chegamos na história humana. Sou artista, me sinto no direito de não fazer por menos. Zizek, que, erroneamente, contrapõe sua preferência por Chávez ao apoio a Lula dado por Toni Negri, menciona Mangabeira de raspão entre os pensadores de esquerda que tentam pensar algo novo. Pois bem, requentar Stalin e Khomeini para se mostrar valente diante da lucidez liberal não me parece novo. É louvar a velha sangueira que produz opressão. Mangabeira vai fundo na análise do conceito de “capitalismo” em Marx, por exemplo, para chegar a propor grandes transformações que prescindam da guerra. Isso para mim é novo. É sonhar com mudanças que mudem mesmo. Eu já sonhava isso para o Brasil antes de conhecer o professor Agostinho da Silva. Ler Mangabeira, com essa perspectiva, apoiando Brizola quando eu apoiava, Ciro quando eu apoiava, me fez repetir o nome dele por mais de uma década para uma imprensa que se recusava a publicá-lo. Há algo de religioso em tudo isso. A aposta dele, como a de Agostinho, é num milagre. Eu não sou religioso. Mas desejo mudanças do tamanho de milagres. Isso não me parece necessariamente irrealista.
CULT – O mandato de Lula termina no ano que vem. Em 2006, em entrevista à CULT, você disse que, embora o achasse mítico e simpático, não votaria na sua reeleição de jeito nenhum. Você acha que o “esse é o cara” do Obama mostra apenas que Lula é um mito que ultrapassou fronteiras ou acha que isso sinaliza de fato uma transformação geopolí-tica maior?
Caetano – Obama se espelhou em Lula. Até “boa pinta”, que ele é mas Lula não, rolou na fala. Mas esse espelhamento não teria permissão para se declarar se não conviesse ao poder americano que Lula fosse agraciado com elogios. Há transformação. Lula e Obama a simbolizam bastante bem. E a crise dá espaço para hipóteses ambiciosas. Ou meramente catastróficas. Mas o Brasil que saiu da era das ditaduras, com a abertura do mercado efetivada por Collor – e que passou pela globalização nas mãos de Fernando Henrique e Lula – é um país com maior peso internacional. Vi ontem Anabasys, o belo filme sobre a feitura de A idade da terra, e nele ouvi Glauber xingar Delfim Neto. Glauber o faz de um ponto de vista da esquerda estatista que ele representava ao apoiar Geisel (corretamente lido como um estatista-nacionalista que faria a abertura), embora a esquerda o atacasse por apoiar um presidente militar. Hoje Lula ouve conselhos de Delfim, a quem faz elogios.
Lula vive a euforia de ver o amadurecimento econômico do país acompanhado de um crescente prestígio das coisas brasileiras aos olhos do mundo. Nisso eu me identifico mais com ele do que com seus críticos. À esquerda ou à direita. Embora eu seja mais cético e, em comparação, um tanto melancólico. Sua chegada ao poder, a de um operário iletrado, é um êxito enorme na Europa desde o começo. Durante a crise do mensalão, vi reações de proteção a Lula na Itália e na França, mais até do que entre petistas brasileiros. Lula é figura internacional. Obama reafirmou isso. Os Estados Unidos precisam de um Lula forte e um Chávez negociador. Ninguém é burro nessa turma. Votei em Lula chorando de emoção. Nunca me arrependi de tê-lo feito. Acho que ele se sente capaz de aproveitar o plano real de FH, o milagre brasileiro de Delfim/Medici, a industrialização de Juscelino (que, aliás, tornou possível seu surgimento) e o populismo getulista. Nunca antes neste país.
Mas nunca desejei que Lula se reelegesse. Nem desejo que ele eleja Dilma e volte em seguida. Aliás, em minha impaciência, votei contra (e torci contra) a reeleição de FH e de Lula. Achei que 16 anos de esquerda uspiana no poder seriam demais. Mas até que o resultado é, para nossos parâmetros, bastante bom. Mesmo porque, mal chegam lá, eles se veem longe da visão que os engendrou como figuras políticas fortes. Muitas vezes se chama de traição a simples evidência de amadurecimento. Odeio políticas antiquadas de favores, corrupção e fisiologismo, odeio mensalão também – mas não desprezo a aproximação entre Lula e Delfim, nem entre FH e Toninho Malvadeza. No primeiro caso, era preciso chegar lá – e nenhum presidente não petista poderia ter um economista da ditadura, apoiador do AI-5, em posição de guru. No segundo, às vezes só se supera um quadro arcaico confundindo-se com ele e, astuciosamente, desconstruindo-o. No final do governo FH, ACM, Jader Barbalho e Sarney pareciam figuras superadas. Voltaram com tudo na era Lula. Mas Lula tem força própria e uma vaidade histórica do tipo que me parece útil agora. Pareço dizer loucuras? Mas se sua pergunta já começa com aquela do Paulo Arantes…
CULT – Se fosse preciso (você pode recusar tal necessidade), como você se definiria politicamente? De esquerda, de direita, de centro, social-democrata, liberal?
Caetano – Nessa hora eu adoraria ser americano: nos EUA “liberal” quer dizer “de esquerda”. Eu estaria unido a palavras que produzem bem-estar. Aqui tenho de me contorcer e dizer que sou de uma esquerda transliberal. Digo também que sou de centro mas não estou em cima do muro: estou muito acima do muro. Mas isso tudo é fanfarronice de artista.
Eu aplico o termo “direita” a conservadores reacionários. Todo o pessoal de esquerda gosta de citar Alain dizendo que se alguém diz que não há tal divisão “direita e esquerda”, esse alguém é de direita. A observação é aguda e engraçada. Mas pode servir justamente a propósitos conservadores. Volto a Antonio Cicero: há uma reação à modernidade que se organiza em áreas do que chamamos direita e em áreas do que chamamos esquerda, hoje. Concordo com ele que desqualificar os direitos individuais, os direitos humanos propriamente ditos, é uma manobra conservadora profunda – que você pode encontrar tanto em Olavo de Carvalho quanto em Slavoj Zizek. Tanto no cardeal que excomunga os médicos que fizeram o aborto da menina estuprada pelo padrasto quanto no dirigente comunista que nega o direito de ir e vir dos cidadãos do seu país. Ou o direito de crítica. Cicero não é bobo de pensar que todos os sofisticados da academia não pensam que ele simplesmente quer limpar o terreno de toda a riqueza conceitual que vem desde Heidegger e Wittgestein, passando pelos frankfurtianos, até os pós-estruturalistas, para voltar – num movimento de contravanguarda filosófica – ao racionalismo vulgar dos iluministas. Cicero sabe que enfrenta essa questão com bravura.
Para ser sincero, com meu espírito místico e meus instintos de vanguarda, não sinto as coisas como ele sente. Além de ser muito ignorante para de fato entrar no debate. Mas não dá para seguir em frente repetindo Adorno ou ecoando Deleuze sem responder as questões que Cícero põe. Ele vem de um marxismo estruturalista (Althusser) e reencontra o melhor do liberalismo inglês e do racionalismo francês porque pensou mais do que os que apenas se ilustraram ou mesmo se refinaram muito. Ou seja: para se ir adiante tem-se que superar a crítica que ele faz. Eu o encontro em meu realismo radical, em minha paixão pela lucidez e pela justiça. Somos amigos e ele também é artista (na verdade, poeta), mas se eu encontrasse O mundo desde o fim por acaso, e não conhecesse o autor, eu ficaria tomado. Eu considero minhas confusões e a limpidez do pensamento de Cicero à esquerda de todas as formas de negação da modernidade. Digam-me que uma razão unívoca não pode dar conta dos nós da superpopulação (sou louco pelo Lévy-Strauss de Tristes Trópicos – e adorei ler hoje que Euclides da Cunha profetizou com grande clarividência os problemas ecológicos que enfrentamos), dos enigmas da mecânica quântica, do mistério complexo das culturas. De acordo. Mas não usem esse espantalho para desenterrar formas já testadas e já rejeitadas. Pode ser que haja um grande retrocesso na civilização. Mas ele não terá em mim um de seus arautos.
CULT – O que pensa da proposta de alteração da lei Rouanet? Ela de fato impulsiona o dirigismo estatal na cultura? Que implicações dessa mudança você veria, em particular, na produção musical?
Caetano – Sinceramente, nunca pensei a lei Rouanet do ponto de vista da música popular. Sempre considerei o negócio da música muito bem-sucedido no Brasil. Não parecia precisar de incentivos maiores do que os que já tinha. A área que me vem à mente logo que se fala em lei Rouanet é a do cinema. Quando da tentativa de se instaurar a ANCINAV, eu reagi vigorosamente. Toda a força que o cinema brasileiro ganhou desde que se livrou da política assassina de Ipojuca Pontes, ministro de Collor, se deveu à lei Rouanet. E, depois, à lei do audiovisual. Não tenho talento para acompanhar tecnicalidades jurídicas. Mas naquela altura, era nítida a tendênca dirigista. Até sugestão de que as obras estivessem de acordo com as políticas de governo (mormente o projeto Fome Zero!) constava do documento. Desta vez, noto que o ponto mais criticável da proposta é o desaparecimento da cláusula que desautorizava julgamento subjetivo do valor artístico, político ou moral da obra. Também a insinuação de que os trabalhos passariam, em certa medida, a pertencer ao Estado dentro de um determinado prazo. A caracterização do poder executivo (o MinC) como co-produtor é incorreta e suspeita. Não creio que Juca seja um dirigista. Ouço-o falar e acredito nele. Mas leis são feitas para serem usadas por governos sucessivos. Não pode haver brecha para dirigismo. E esse novo projeto é muito vago em tudo o mais, dependendo de futuras decisões a respeito de detalhes importantes. Mas, como da outra vez, acho que o bom-senso prevalecerá. Naquela ocasião foi o próprio Lula quem cortou o mal pela raiz. Antes disso, eu fui pessoalmente agredido na revista Carta Capital por ter feito coro aos protestos de cineastas. Passei a chamar a Carta Capital de “a Veja do Lula”. Mas Lula driblou as ingenuidades do projeto da ANCINAV. Agora não é caso para ele entrar diretamente na briga. Mas Juca deve ouvir a queixa dos produtores.
CULT – Seu disco comprova mais uma vez que a canção permanece, apesar daqueles que não hesitam em decretar o fim do gênero, um campo aberto para a reflexão sobre a própria linguagem (como se percebe no deslocamento métrico da guitarra/baixo com a bateria na reinterpretação de “Incompatibilidade de gênios”, ou no minimalismo que vincula harmonia e letra em “Perdeu”, ou na fusão rítmica entre rock e samba que está em outras canções). Mas o gênero ainda aparece também como campo para declarações políticas e de protesto (mais visível na declaração sobre Lula e FH em “Lapa”, Osama e Condoleeza em “Diferentemente”, e na pancada monocórdica de “Base de Guantánamo”). Apesar disso, você concorda com um certo esgotamento do potencial estético e também político da canção?
Caetano – Sou um apaixonado da canção. Meu amor imenso por João Gilberto vem de perceber que ele é o conhecedor profundo do espírito da canção. A cultura pop, tal como a conhecemos, com a canção e o cinema na frente, é algo que chegou ao ápice no século 20. As transformações tecnológicas, políticas e econômicas por que estamos passando esboçam um novo quadro. Chico Buarque comenta que alguém – creio que um italiano – chamou sua atenção para o declínio da forma canção, comparando-a à ópera no século 19. Além disso, Chico se impressionou, com razão, com o fenômeno do rap, que surgiu como a música de protesto escrita diretamente pelos que estão à margem das áreas dominantes da sociedade, e não por compassivos garotos de classe média. Sou mais pop do que Chico, então vivi esse entusiasmo no início dos anos 80 (por causa do filme Beat Street escrevi “Língua”, música que, na própria letra, se intitulava “samba-rap”, profetizando o que Marcelo D2 faria mais de uma década depois).
Passados tantos anos, cansei da insistência na ostentação de carros, jóias, mulheres como objetos de luxo, desaforos raciais, namoro com chefetes do tráfico: vi essa cultura influenciar os garotos de Santo Amaro (minha cidade natal) e de Guadalupe (bairro de minha infância no Rio) e tendi a perceber fragilidade na política desse gênero de expressão. Mas sempre soube que julgamentos políticos de obras artísticas não funcionam. Então, além de o rap me interessar formalmente (adoro as batidas que enganam a expectativa rítmica do “suíngue”, ou as divisões dos vocais canto-falados que executam drible igual), acho que o interesse conteudístico de suas manifestações está na poesia que nasce dessas contradições, desses desacertos – na tragédia dessa forma de ex-pressão. Mas não acho que o rap represente algo pós-canção. É, talvez, um dos sintomas de que o tempo da canção está passando. Se é que está mesmo passando. Formas artísticas não se prendem ao seu tempo. Ninguém sabe o que futuros amantes encontrarão em canções como “Flor da idade” ou “Blackbird”, “Don’t think twice” ou “Maracatu atômico”. A canção gravada em disco e tocada em rádio é marca do século 20. Isso é que está mudando. Mas A CANÇÃO é velha como a humanidade: cantos japoneses, poemas provençais, Lieder alemães do século 19 – tudo isso veio antes da canção do século 20 – e muito mais virá depois.