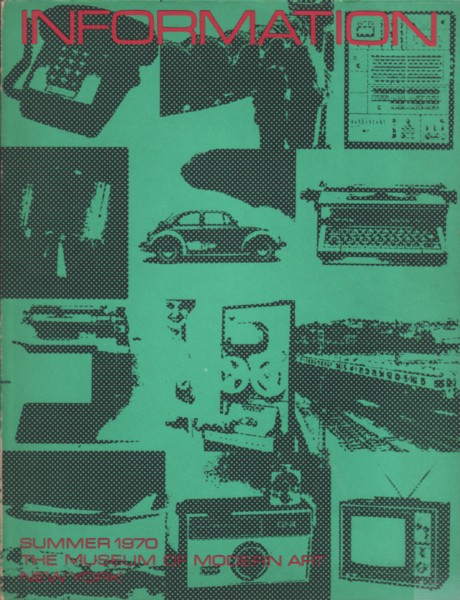Nosso correspondente Frederico Coelho mandou o texto certeiro aí embaixo sobre a exposição imperdível de Luiz Zerbini na Casa Daros – Rio de Janeiro. [ATENÇÃO povo do Rio ou de passagem pela cidade > amanhã tem show do Chelpa Ferro e a exposição só vai até domingo – Lucia Koch (aka DJ Surpresinha) já confirmou presença].
Luiz Zerbini, um cartesianista tropical
Natureza e cultura são dois polos que alimentam nosso olhar ao nos depararmos com a obra de Luiz Zerbini. Mesmo em sua geometria plena de jogos cromáticos entre superfície e profundidade, em suas esculturas cujo mármore se torna não técnica da eternização, mas sensação de movimento, nos desenhos cujo prazer do artista com o jogo entre caneta e papel explode diante de nossos olhos, a força motriz de todos esses trabalhos é a vontade de Zerbini de devorar o mundo através de tintas e transformar natureza e cultura em um espaço único de compreensão das coisas.
O Brasil e o brasileiro, dentro do mundo visual de Zerbini, é um amálgama alucinado de improvisações, destruição, fascínio e choque que, lado a lado no plano da tela, formam um único ponto de vista sobre tudo e todos. Sua unidade, porém, não existe como princípio que esvazia a sutileza das diferenças. Ao contrário. Ela serve como ética frente às coisas do mundo. Natureza e cultura são um só plano sensível, que se atravessam, se alimentam e se eliminam.
Em suas telas figurativas, Luiz Zerbini atinge, hoje, um dos pontos altos da arte contemporânea que se faz no Brasil. E localizo forçadamente sua obra no plano local da nacionalidade, porque é isso que ele vem pensando ao produzir essas telas. Pedras, plantas, bichos, mares explodem em cores e superfícies, excedem em um barroquismo de texturas e detalhes. Mas, ao contrário dos naturalistas estrangeiros, que, ao longo de nossa colonização, tinham de exibir os espécimes locais como troféus de beleza e opulência dos trópicos, Zerbini sabe que os tempos são outros. A natureza, aqui, é exposta como prova cabal de nossa transitoriedade. Folhas secas, torcidas, no chão, ao lado de bambus cortados, de canaviais dispersos, de flores em cactos, são sobrepostos à invasão voraz da civilização material, adentrando como ruído da paisagem, infiltrando-se como fragmentos de um mundo que parece abandonado e que, aos poucos, é coberto pela vegetação devoradora dos trópicos. Em meio a esse drama de fundo, vemos as cores em serpenteio, as formas virarem rios, escorrendo entre veios riscados, desaguando em mares de estampas.
Essa pintura figurativa, quando transformada em geometria, gera trabalhos em que Zerbini aprofunda seu diálogo com a tradição construtivista brasileira e mundial. Mesmo assim, ela não cessa de aspirar um ponto de vista peculiar. Apesar do rigor de formas e linhas, não é isso que nos prende nessas pinturas. Nossos olhos ficam colados no jogo entre cores e linhas, simulações precisas de movimentos ópticos, invenções de sombras por decréscimo sutil de tonalidades, armadilhas para a visão. Suas telas geométricas nos mostram o prazer do pintor em armar arapucas coloridas para o espectador e para ele mesmo, descobrindo as sutilezas que o grid e sua disciplina apresentam. Se “tudo é quadrado”, como Zerbini disse uma vez acerca de sua visão para as coisas do mundo, o grid é seu paraíso.
Vale ainda apontar que a obra de Zerbini, hoje, é a de um artista que chegou a sua maturidade. É quando vemos o controle pleno de um vocabulário pessoal em síntese permanente. Elementos pictóricos de diferentes tempos em sua obra passam a conviver numa composição. A geometria invade o mar de mármore, as plantas são transformadas em pixels, pedaços de azulejo são cravados na areia de um rio de linhas. A grande mesa, escultura-pintura, é posta como prova concreta dos elementos materiais das imagens nas telas. Há uma linha contínua que costura tudo, cerzindo os pontos desse jogo entre natureza e cultura. Para os que acompanham sua obra, suas telas tornam-se quebra-cabeças, criando um lugar lúdico e misterioso. Essa sincronicidade de imagens também aparece como sincronicidade de tempos subjetivos do artista. Lembranças de infância, desenhos de juventude, fotos pessoais, histórias com suas filhas, os lugares que frequenta, tudo isso é articulado por Zerbini e transformado em imagens que compõem essas telas plenas de acúmulos e de solidão.
Seu país não é uma ode ao Éden de nossa natureza, nem a vitória do materialismo do capital. O país de Zerbini é esse emaranhado de esperança e de vazio, de decadência e opulência. Com suas telas, ele mergulha nos trópicos geométricos. Ou, para usarmos a expressão-síntese do crítico suíço Max Bense sobre o Brasil, em nosso cartesianismo tropical.