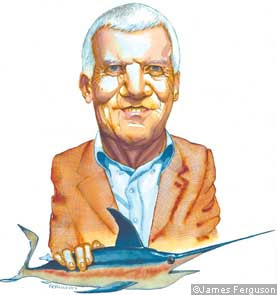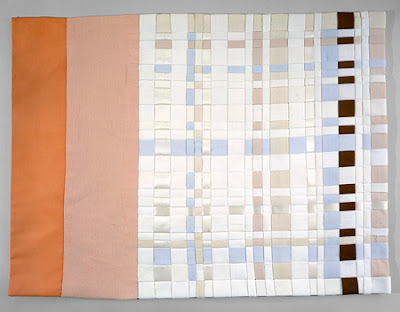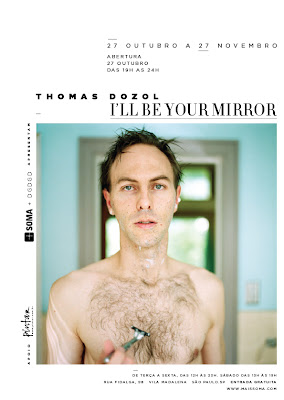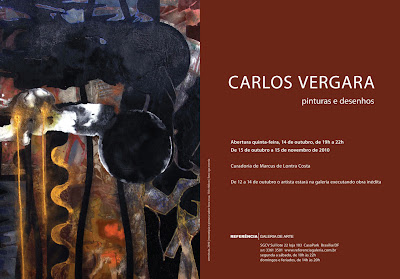Por Alexandra Lucas Coelho, no Rio de Janeiro
1. Tumulto na bienal
Gritos, braços no ar com telemóveis e câmaras. Uma rapariga atira-se para a frente, é agarrada, berra. A multidão avança entre postes, até ao que parece o centro do tumulto. Um homem contorce-se, cai, e caem seguranças por cima. À volta, safanões, tropeções: “Solta ele! Solta o cara! Palhaços! Vagabundos! Filhos da puta!”
Isto é a inauguração da Bienal de São Paulo, a 25 de Setembro de 2010, em vídeos que podem ser vistos no YouTube.
O que é que acaba de acontecer?
Cortando a rede de protecção, um pichador invadiu a obra que ocupa todo o vão central e escreveu nela, em letras brancas gigantes: “Liberte os urubu.” Talvez não tenha tido tempo para o “s” da concordância. Foi apanhado pelos seguranças, enquanto outros pichadores e activistas ambientais tentavam por sua vez agarrar os seguranças, insultando-os.
A origem do tumulto é a presença de três urubus vivos dentro da obra. O ondulante vão central desenhado por Oscar Niemeyer tem três andares de altura. É o espaço mais ambicioso e ambicionado de toda a bienal, onde já estiveram obras de Joseph Beyus, de Anish Kapoor, ou de Rui Chafes com uma performance de Vera Mantero suspensa na própria escultura (Comer o Coração, 2004).
Nesta 29.ª bienal, o artista convidado a ocupar o vão é Nuno Ramos, que em Portugal publicou Ó, um dos mais desafiantes textos da língua portuguesa nos últimos anos, vencedor do Prémio PT de Literatura. Os seus trabalhos plásticos muitas vezes integram texto e música. Para o vão da bienal, ele propõe uma obra chamada Bandeira branca, título de uma das três canções que se ouvem baixinho no recinto.
São três canções, três postes feitos de uma massa escura e densa e três urubus vivos que de vez em quando abrem as asas e voam, planando pelo vão. A toda a volta há uma rede, que o pichador cortou para entrar.
O tumulto torna-se a notícia da bienal, apagando as outras possíveis controvérsias.
Reportando o caso dos urubus, uma televisão diz que o autor da obra é “um artista identificado como Nuno Ramos”, revelando assim não fazer ideia de quem é Nuno Ramos. Sendo a bienal gratuita, nos dias seguintes continuam a entrar magotes de activistas, com t-shirts pelo vegetarianismo, cartazes e correntes. Dois deles algemam-se ao varandim por cima da obra, chamam a Nuno Ramos “suposto artista” e vão gritando com papéis enrolados a fazerem de megafone que “os urubus voam a três mil metros de altura e não a três andares de altura”. No piso inferior, há camaradas com cartazes que depois serão deixados aos pés da obra:
“Urubu não é arte, é ave e voa. Liberte-os!”
“É isso que vc querem ensinar para seus filhos!!! Crueldade animal!”
“Boicotem a bienal, os urubus merecem respeito. Uma “arte” sem ética evoca o nazismo.”
“Bienal: Crueldade dos animais sob o manto da arte.”
“Boicote o sadista. Sádico+artista=Nuno Ramos.”
Os três urubus são animais de cativeiro, vieram de um parque em Itabaiana, estado de Sergipe, nunca viveram na natureza e têm presença na bienal autorizada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos).
Mas a pressão multiplica-se em blogues, como o do Centro de Mídia Independente, para citar um exemplo: “Está na hora do Ibama parar com esse legalismo e se dar conta de que o problema não é se o animal nasceu em cativeiro ou não”, escreve o activista Lobo Pasolini. “O problema é explorar animais, ponto final. Animais não são coisas que podem ser postas a serviço da vaidade de uma pessoa, independentemente do suposto “bem-estar” pelo qual a organização diz zelar. Como o Ibama pretende acabar com o tráfico de animais enquanto apoia a exploração desses é um mistério para mim.”
Lobo Pasolini informa que os urubus da obra “convivem permanentemente com o som de músicas” em “muitos alto-falantes”, e que “não é a primeira vez que Nuno Ramos explora animais em benefício próprio”, visto que já em 2006 “usou burros em uma instalação onde os animais eram obrigados a portar grandes caixas acústicas”. Trata-se, pois, de mais um “caso de arrogância e falta de ética”, escreve o bloguista. “A questão aqui não é censura. O artista tem o direito de fazer o que quer, se expressar livremente, mas com certeza ele não tem direito de causar sofrimento e reforçar a opressão. Imagine-se que para tratar de um tema como o estupro de mulheres, digamos, o artista tenha de reproduzir uma cena real em sua instalação ou filme?”
O vereador Roberto Tripoli, do Partido Verde, faz denúncia do caso, exigindo a retirada dos urubus, e anuncia que vai apresentar “um projeto de lei proibindo a presença de animais em qualquer exposição na capital”. Gláucia Bispo, coordenadora de Fauna do Ibama de Sergipe, vem a público dizer que “quando o artista e a bienal requisitaram a autorização, apresentaram fotos que não correspondiam ao local onde os urubus estão”.
E o Ibama acaba por retroceder, retirando a licença. A bienal recorre em tribunal e fica à espera da decisão. O recurso é recusado. Na noite de 7 de Outubro, depois dos visitantes saírem, os três urubus são retirados.
2. A obra ao perto
O P2 viu a obra ainda com os urubus em duas visitas, 4 e 5 de Outubro.
Para quem nunca esteve na Bienal de São Paulo, o primeiro impacto é o tamanho do vão central, um espaço enorme, em torno do qual tudo se organiza. A obra que está no meio acaba assim por se estender a todas as outras. Está quase sempre nas nossas costas, ou à nossa frente, ou por baixo, ou por cima. No caso de Nuno Ramos, como há uma rede delimitando literalmente um dentro e um fora, isso é particularmente visível: “aquilo” está sempre ali, entre nós.
E o que é aquilo?
Quando entramos, e no piso térreo olhamos para cima, para a imensidão daquelas três massas densamente inumanas, escuras, arredondadas, com um declive abrupto, é como se uma imagem vinda de um livro de Kafka, talvez O Castelo, se materializasse. Uma forma para um medo a que nunca demos forma.
Cá em baixo, há uma porta na rede, uma pequena porta fechada, única possibilidade de entrar, mas vedada a todos menos ao tratador. Os urubus estão lá em cima, pousados, e deste piso térreo não se vêem bem.
Não restam quaisquer vestígios de protesto. A pichação foi apagada logo a seguir e hoje não há activistas na bienal, aparentemente.
Então, os visitantes sobem pela passadeira em caracol, branca, leve, aérea, que depois se ramifica como as artérias de um coração, puro Niemeyer. E nos pisos seguintes é possível observar mais de perto os três animais negros, com a sua cabeça em gancho, imóveis como quem espera. Dois num poste, um noutro.
Cada poste corresponde a uma canção dentro de uma caixa de som, e portanto, dependendo do piso e do ponto onde está, o visitante poderá ouvir Bandeira brancacantada por Arnaldo Antunes, Carcará, cantada por Mariana Aydar, e Boi da cara preta, cantada por Dona Inah. Mas o som dos três altifalantes está tão baixo que não é fácil seguir a letra de cada uma. O som ambiente da bienal é mais alto.
De repente um urubu abre as asas e vem directo a nós em linha recta, como se não houvesse rede. Mas antes de tocar na rede muda de direcção.
O humano está dentro ou fora? É antes ou depois de nós? Antes ou depois da morte?
Se agora olharmos do alto deste último piso, podemos ver lá em baixo a capa do livroBiblioteca, de Gonçalo M. Tavares, a fazer de porta de uma casa. Porque aos pés da obra de Nuno Ramos, como uma sua antítese, confiante, reconfortante, está a casa-labirinto de Marilá Dardot e Fábio Morais, em que portas, paredes e chão são livros (Cortázar, e.e. cummings, Sophie Calle, Lewis Carroll, Hilda Hilst, Kafka, Perec, Mallarmé, Haroldo de Campos, Calvino, Borges…). A Biblioteca abre-se para dentro ou para fora, entram e saem pessoas. Tudo o que na obra de Nuno Ramos não é possível.
São Paulo é uma cidade com dez milhões, e mais dez na zona metropolitana. No meio desta paisagem vertical, irregular, densa, há uma respiração verde, com água, jacarandás e a flutuante arquitectura branca de Niemeyer: o Parque Ibirapuera. Aqui está o Museu de Arte Moderna, e o seu prolongamento ramificante, a Marquise, uma pala que vai percorrendo espaços do parque, e debaixo da qual a toda a hora háskaters e patinadores. Aqui está a Oca, um palácio de exposições que parece uma nave afundada na relva. Ou o mais recente Auditório, com uma língua vermelha levantada para o céu.
Tudo isto é Niemeyer, entre plantas, lagos e gente, e pode avistar-se dos grandes janelões de ferro que ele imaginou para o edifício da bienal, no centro do parque.
Podemos então ver a obra dos urubus também como o buraco negro deste esplendor. O seu avesso, ou o seu simultâneo.
“É o urubu”, gritam alegremente as crianças de uma escola, no segundo dia em que o P2 lá foi. “Muito louco, legal!”, comenta um dos rapazinhos, fotografando um voo. Mais adiante, a TV Cultura grava um depoimento com um artista encostado ao varandim, Paulo Pasta, sobre a polémica dos urubus. “Empobreceu o debate”, diz ele. “O Nuno vem trabalhando uma veia alegórica, de falar do país. Esse trabalho é grandioso lá em baixo, e cá em cima tem as asas de um bicho de carnificina. Talvez nos leve a pensar na situação do nosso país. O que é que tem no gueto? Tem maravilha mas ao mesmo tempo uma tragédia. Esse trabalho aflora tudo isso.”
3. Ao telefone de Istambul
Ainda antes de a bienal abrir, o P2 trocara emails com Nuno Ramos para combinar uma conversa durante a campanha eleitoral. Entretanto a polémica dos urubus rebenta e dias depois o artista vai para Istambul, onde tem compromissos. Temos uma primeira conversa ao telefone no momento em que o recurso está em tribunal. Que fará caso a decisão seja retirar os urubus? A obra não perderá sentido? “Grande parte, sim, deixa de existir”, diz Nuno Ramos. “A ideia de um interior que não pode ser violado deixa de fazer sentido. Até talvez eu desfaça a obra toda. Mas os urubus estão sendo bem cuidados, estão bem de saúde, acho tudo isso um absurdo.”
Dividindo por partes: “Por um lado, a reacção caluniosa, com boatos absurdos, a dizer que deixei bichos morrer, que os ia deixar afogados em latas de tinta. Me confundiram com aquele artista mexicano que deixou morrer um cão. Disseram que eu soltava fogo-de-artifício para fazer os bichos voarem. Parece-me uma coisa fascista e você não tem como se defender.”
Depois há a questão ambiental: “As pessoas têm o direito de serem contra aves em cativeiro, desde que entendam que eu não estou maltratando os urubus. Há limites em arte: você não pode matar uma pessoa. Mas dentro do limite legal a arte pode tudo. Eu não sou ecologista, fiz uma obra com vários sentidos. E essa polémica parece-me mais uma forma de controle do imaginário, de onde a arte sai muito diminuída.”
Os urubus na obra são “o bicho nocturno, a natureza invadindo aquele edifício, algo que vem das penas pretas que migrou para aquelas esculturas de areia queimada que aparecem modernas, mas também observatórios maias, como se algo estivesse sendo observado do ponto de vista astrológico”. Esse é o universo da criação, “um mundo do sonho”, e Nuno Ramos teme que ele esteja “sendo cada vez mais colonizado” por um discurso exterior. “O discurso ecológico parece que sequestrou o olhar.” Mas “a arte é uma saída, não é uma solução, não resolve nada, só abre”.
Numa versão experimental, com outras formas, esta obra já tinha estado exposta em Brasília. Nuno Ramos reformulou-a para a bienal, pensando-a sempre no momento presente do Brasil. “O vão é o coração do prédio, onde o público circula. Então, tem esse coração veloz, expansivo, dos anos 50, e a obra é o contrário: preto, volume, peso, para dentro. É uma desconfiança em relação a esse optimismo que o Brasil está vivendo. O interessante é você não poder entrar. Não teria a mesma força se pudesse.”
4. Depois da retirada
Os urubus são retirados na noite de 7 para 8 de Outubro. Nuno Ramos já está de volta a São Paulo, mas como o P2 agora está no Rio voltamos a falar por telefone. Que vai fazer? “Vou manter a obra. Acho que seria muito injusto com a bienal, não seria praticável. Eu estava achando que a gente ia ganhar, mas aí o juiz indeferiu e o cara que trata deles retirou. Agora estão de volta no cativeiro original que é 1/16 mais pequeno, no Parque dos Falcões, em Sergipe. Nunca saíram do cativeiro, só em exposições minhas.”
E como é que Nuno encara a retirada? “Acho que não foi por motivos técnicos. Não me sinto censurado como na ditadura militar. Foi legítimo, os caras entraram na justiça e ganharam. Mas sinto-me injustiçado. Os urubus foram retirados por pressão política, de incapacidade de ouvir a arte, de dialogar com ela. O que foi suprimido foi a estranheza do que fiz e não o mau-trato. Ninguém falou em mau-trato. A coisa veio muito das ONG, do deputado do PV, a coisa pegou na Internet.”
Pelo meio chegou a haver diálogo com o Ibama de São Paulo. “Parecia que haveria uma colaboração. Eles queriam que eu usasse luz ultravioleta três vezes por dia, o que seria tranquilo de fazer. Propuseram que a licença fosse revogável a cada 15 dias e eu gostei dessa ideia. Pus a hipótese de diminuir o som.” Mas depois, crê, terá havido “pressão política organizada” em Brasília. “Acho difícil que eles tivessem ganho se não houvesse eleições.”
Questionado pelo P2, o Ibama/Brasília remeteu para o Ibama/São Paulo, que enviou a seguinte nota através da sua assessora de imprensa: “A licença de transporte e exposição dos Urubus que faziam parte da obra do artista Nuno Ramos na 29.ª Bienal em São Paulo foi revogada, considerando Parecer Técnico dos analistas ambientais recomendando que as instalações estavam inadequadas para a manutenção dos animais. Em notificação o Ibama solicitou a retirada das aves e seu retorno ao local de origem, o Parque dos Falcões em Itabaiana/SE.”
Agora, “há que defender de volta a autonomia da arte”, remata Nuno Ramos. “Não vou fazer-me de vítima. Essas pessoas [os activistas que o acusaram de explorar os urubus] impõem uma simplificação radical a tudo, precisam desse inimigo simplório para continuarem a repetir as mesmas coisas.”
E sugere a quem viu a obra da bienal que veja a sua obra-irmã. Está neste momento em exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nuno Ramos acha que tecnicamente é a mais difícil que já fez.
5. O fruto no Rio
Os trabalhos de Nuno Ramos têm “uma dimensão material intensa em que nada é confortável”, escreve a curadora da exposição do Rio de Janeiro, Vanda Klabin. “Abrem-se a experiências inquietas, desordenadas, interrogativas, nas quais uma busca poética e existencial faz-se sempre presente.” Estar perante uma obra deste artista “inclassificável”, “um dos mais versáteis” do Brasil, é “ter a possibilidade de acessar mundos remotos, guardados na memória de cada um de nós, e também no repertório comum a todos os brasileiros que cresceram ouvindo o samba de Nelson Cavaquinho ou conheceram a literatura através dos poemas de Carlos Drummond de Andrade”.
O texto pode ler-se no primeiro andar do museu, um espaço luminoso, totalmente dominado pela obra Fruto Estranho. É um trabalho monumental. Duas árvores verdadeiras com dois aviões verdadeiros encastrados nas copas. É como se os aviões se tivessem despenhado ali há séculos, e agora o metal e a madeira formassem uma matéria só, os troncos a trespassarem as asas, e tudo coberto de uma seiva branca. A árvore passou a ter asas e o avião passou a ter raízes. Mas eternamente presos um ao outro, estão como as figuras de Pompeia, imóveis, cobertas de lava.
Neste caso, o que parece seiva é na verdade sabão, cobrindo os aviões até eles parecerem uns bichos cegos, sem olhos, sem janelas. Quatro toneladas de sabão para dez toneladas de obra, no total.
Cada avião tem uma asa de onde pende um tubo cheio de líquido, como numa transfusão. E cada asa tem a seus pés um contrabaixo de onde foi retirada uma parte da madeira para alojar um recipiente com líquido. A ideia é que o tubo que vem da asa está a deixar cair o seu líquido no violoncelo.
Se avião e árvore estão petrificados, o líquido estará em movimento. Nuno Ramos pensou-o como sendo soda cáustica, mas o museu contrapropôs água, por razões de segurança.
E num pequeno ecrã entre os dois aviões passa continuamente um fragmento de A Fonte da Virgem, de Ingmar Bergman: um homem chega ao cimo de uma montanha onde há uma jovem árvore solitária e agarra-se a ela com toda a força do seu corpo, tentando derrubá-la. Por cima, Nuno Ramos põe Billie Holiday a cantar Strange Fruit. Quando ela acaba de cantar, a árvore caiu, com o homem abraçado. O conjunto é de uma beleza arrepiante.
E quando voltamos a andar entre os aviões, a voz de Billie Holiday segue-nos como um eco, uma memória, algo que esteve vivo ali e já não está.
6. A grande arte
“Nuno Ramos é um dos artistas mais importantes do mundo na geração aparecida nos anos 80”, diz ao P2 o crítico e professor Paulo Sérgio Duarte. “Existe uma crueza no olhar dele, um brutalismo, uma intensidade difícil de encontrar. É uma obra contundente, com uma força plástica formidável e uma inteligência muito rara. Acho que ele ainda não tem a resposta internacional à altura mas acabará por ser reconhecido.”
Paulo Sérgio, um dos mais influentes críticos no Brasil, desvaloriza a polémica dos urubus. “Já assisti a manifestação contra a morte de moscas, literalmente. Isso aconteceu em Houston, na abertura de um trabalho de Tunga [artista basileiro]. Os urubus estavam licenciados, e eram criados em cativeiro, mas se há quem proteste por moscas… Isso é tanto mais desproporcionado quando pensamos nos problemas do país. Não estou de acordo com essa pressão.”
O músico e ensaísta José Miguel Wisnik disse, na sua coluna do Globo: “As reacções que ele despertou parecem ser uma projecção fantasmagórica e obtusa, desvairadamente literal, daquilo que atravessa sua obra como uma sondagem – única – de dimensão brutalmente física e impalpável que persiste entre as palavras e as coisas.”
Essa dimensão, não apenas entre as palavras e as coisas, mas entre nós e as palavras, como no poema de Cesariny, será talvez o mais perturbante na obra de Nuno Ramos.
Wisnik remata assim o seu texto: “Sim, Nuno Ramos é cruel. Isto é, um dos nossos maiores artistas vivos.”
Nascido em 1960, a trabalhar como artista plástico desde os anos 80, autor de vários livros de contos e ensaios, além de canções, Nuno Ramos vive em São Paulo. O seu último livro, acabado de publicar no Brasil, chama-se O Mau Vidraceiro, e tem um vestígio de ave na capa. Na badana, Gonçalo M. Tavares escreve: “De resto, os urubus no ombro de Nuno Ramos sabem que tudo “termina sempre aqui”, nas suas panças. Mas nós – que conseguimos ser tão exactos na nossa covardia – já ali estamos, na sombra do segundo urubu (o que vai devorar o primeiro), encolhidos e encolhidos, como predadores. Mas julgando preparar a nossa pança, já estamos, afinal, a falhar a nossa fuga.”